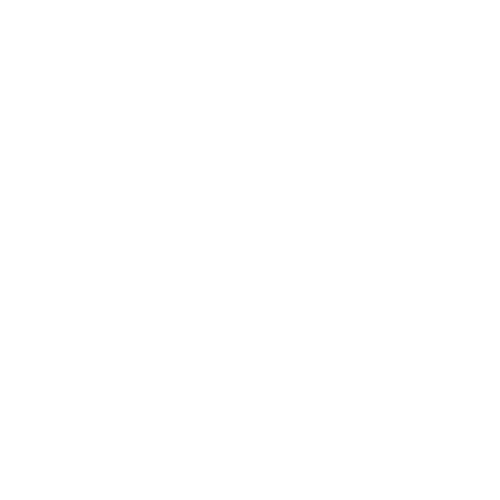“Me sinto mãe de duas”: o relato de uma mãe de criança trans

Thamirys Nunes sempre quis ser mãe de um menino. Ele nasceu em 2015 e foi nomeado Bento. A mãe, comunicóloga, estava realizada. Largou o trabalho para se dedicar exclusivamente ao sonho da maternidade. Mas Bento não era o menino com quem ela sonhara: era uma menina e queria se chamar Agatha.
Na conversa com Ninhos do Brasil, Thamirys contou sobre o processo de transição social de gênero, o luto que ela própria sofreu por seu menino, até a luta que ela abraçou pelos direitos de sua menina.
“Você não está sabendo educar um filho homem”
Quando a criança tinha por volta de 1 ano e 8 meses, os pais começaram a perceber que o menino se identificava mais com as “coisas de menina”. Um exemplo quase banal: na praia, os homens estavam sem camisa, estava calor. Ele não aceitou tirar a dele, porque a mamãe estava usando a parte de cima.
Por volta dos dois anos, com a repetição frequente de manifestações desse tipo, a família procurou orientação de uma psicóloga pela primeira vez.
“Infelizmente foi um fiasco: para a psicóloga, o problema era que eu e meu marido não estávamos sabendo educar um filho homem. Que eu era vaidosa demais, usava muita maquiagem e salto, e o pai trabalhava demais, então estávamos falhando na apresentação do universo masculino para a criança”, relembra.
A orientação da profissional foi reforçar os elementos masculinos, desde vestuário e brinquedos até músicas e esportes. “Só que isso só trouxe mais sofrimento. Eu parei de usar batom, vestido, salto, até heavy metal colocamos para a criança escutar. Foram dois anos bem difíceis, tentando uma coisa que a gente não via surtir nenhum resultado positivo”.
Thamirys seguiu pesquisando. Descobriu o AMTIGOS, ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).
Enquanto aguardava o atendimento especializado, e diante do sofrimento que o filho manifestava, procuraram outra psicóloga. Ela ajudou a família a criar um ambiente seguro e acolhedor às necessidades da criança. A nova orientação era “liberar em casa e blindar na rua”.
O período de experimentação e gênero fluido: como eu posso te chamar hoje?
Durante cerca de cinco meses, o gênero da criança fluiu entre o masculino e o feminino. Na rua e na escola, a criança ainda usava uniforme masculino e se chamava Bento. Em casa e diante de familiares, começou a apresentar seu lado feminino.
Agatha precisava de um lugar seguro para experimentar. Um lugar em que ela não fosse julgada ou tivesse que lidar com expectativas diferentes de cada pessoa.
“A psicóloga nos ajudou a criar esse espaço”, lembra Thamirys. “A cada dia, perguntávamos: como você quer que a gente te chame hoje? De filho ou de filha? E não demonstrávamos nenhum sorriso diferente para uma resposta ou outra” – para que ela não interpretasse como validação ou preferência dos pais por alguma delas.
Com maior liberdade, Agatha foi percebendo como as pessoas reagiam a um brinquedo, uma fantasia, um batom… E foi indo, testando, fluindo, até que se sentiu segura e acolhida, viu que seria respeitada.
“Ela precisava de um lugar seguro para se organizar, para se olhar no espelho e pensar ‘eu me amo mais com a roupa de princesa ou com a roupa do Batman? Eu sou quem? Agatha, Bento ou outra pessoa?” – explica a mãe.
Um dia ela chegou para a família e falou: “eu sou uma menina e meu nome é Agatha. A partir de agora, eu quero só ser uma menina”.
A escola foi o último lugar. Quando se sentiu segura, pediu para ir com o uniforme feminino. A partir daí, e há dois anos, os pais já não precisam perguntar. Agatha estava fazendo sua transição social.
Importante: a transição de gênero na infância é apenas social. Não há qualquer tipo de cirurgia ou tratamento hormonal envolvido.
A transição social e a festa junina
“Ela transicionou em junho e escolheu um vestido para a festa junina. A escola toda apontou, cochichou, olhou. A sorte é que ela não percebeu. Uma criança maior teria percebido os olhares e cochichos”, lembra Thamirys.
Mesmo com apenas quatro anos de idade, Agatha já sofria as primeiras experiências de bullying. De apanhar dos coleguinhas, ser xingada. “Mesmo diretores e professores, e outras pessoas da escola que olhavam torto, faziam buxixo, apontavam”.
Mas Thamirys entendeu que precisava de ajuda de educadores e das outras famílias. “Eu preciso que essas famílias ensinem os filhos delas a respeitarem a minha filha, e eu não posso pedir ajuda sem contar o que está acontecendo”.
Foi quando se reuniu com os outros pais e contou tudo o que estava vivendo desde os dois anos de idade da criança, das tentativas que já tinham feito. “E agora a minha tentativa é pedir para que os filhos de vocês não batam na minha filha, que vocês não deixem de convidar para o aniversário, porque ela é só uma criança”.
Foi uma virada de chave. “A partir do momento em que eu consegui conversar com essas famílias, foi uma outra vivência na escola, de mais empatia, de mais respeito. Claro que teve pais que nunca mais olharam pra gente, mas foi minoria”.
Do sofrimento ao ativismo
Quem vê Thamirys falando com tanta segurança hoje não imagina o sofrimento que a transição foi também para ela.
“Eu cheguei num ponto que eu achei que eu nunca mais ia ser feliz. Um dos meus maiores medos era não amar aquela criança nova, que estava disposta, de certa forma, a levar meu menino embora. Porque, para a Agatha existir, o Bento precisava ir embora.
É o mesmo corpo, mas os meus sonhos para o Bento não são os meus sonhos para a Agatha. Eu nunca mais pude chamar de filho. Isso para uma mãe gera um impacto. Eu nunca mais pude chamar a minha criança de Bento, que era o nome que eu sonhei desde a gravidez. Isso gera uma dor”.
Com o tempo e com apoio psicológico, Thamirys percebeu que novos planos e sonhos surgem para a nova criança. São duas maternidades diferentes e duas formas de amar.
“Eu me sinto mãe de duas crianças, assim como grande parte das mães se sentem mães de dois. Sou mãe do Bento, que foi embora em vida, e da Agatha, que nasceu depois”.
“Até você chegar a ficar bem com tudo isso, dói. Com o Bento, eu tinha uma maternidade romantizada e sonhadora. Com a Agatha, eu tenho uma maternidade visceral, eu mato e morro pela minha filha. Eu sou leoa por ela. Por ela eu resolvi ser ativista”.
A luta pela vida das existências trans
Outro medo que a mãe tinha era sobre o futuro da filha, diante de dados assustadores sobre as violências sofridas pela população trans. A expectativa de vida das pessoas transgêneros é de 35 anos de vida.
“Eu não podia esperar ela fazer 35 anos e alguém me ligar de uma delegacia com uma notícia ruim. Eu não posso esperar isso acontecer para me mobilizar e tentar mudar. Tem que começar a mudar agora”.
Thamirys passou a estudar, procurou apoio de ONGS, passou a se envolver em debates de políticas públicas. “Coisas que eu jamais faria”, revela. “Faço porque eu quero que a minha filha brilhe, que ela tenha oportunidades, que seja feliz”.
O ativismo também atraiu muitos xingamentos, mas não fez Thamirys desistir de sua missão de promover a visibilidade e o respeito à vivência trans desde a infância. “Sou chamada de pedófila todos os dias porque as pessoas não sabem distinguir identidade de sexualidade”.
Leia também: entenda os conceitos sobre diversidade sexual e como conversar com as crianças
Mas as mães de crianças trans lutam pela vida de seus filhos e filhas, para que não entrem para a estatística de pessoas trans que morrem por causa de violência LGBTfóbica ou por suicídio. E mesmo o suicídio é um tipo de assasinato social, como Thamirys explica: “a partir do momento que a pessoa tem todos os seus direitos violados, quando ela se mata, ela não se mata sozinha. Tem muita mão naquele gatilho, cada pessoa que não chamou pelo nome, que fingiu não ver o adolescente que evita tomar água para não precisar ir ao banheiro na escola”.
O livro e o grupo de apoio
Thamirys escreveu um livro sobre a experiência de transição da filha e sobre o próprio sofrimento pessoal durante o processo. Chamou de Minha Criança Trans e criou no Instagram uma conta com o mesmo nome para divulgar a causa.
A partir das publicações, acabou atraindo apoiadoras e voluntárias. “As mães veem que eu sofri o que elas estão passando, em maior ou menor escala, mas que hoje eu estou bem”. Thamirys fica feliz em ajudar, e os olhos brilham: “Eu não tinha ninguém que segurasse a minha mão e dissesse ‘olha, eu já vivi isso e você vai passar e vai conseguir ser feliz’. Hoje temos um grupo de whatsapp de 140 famílias de crianças de 3 a 17 anos do Brasil todo, que me procuraram”.
O futuro de Agatha
Já faz dois anos que Ágatha vive como uma menina trans. Quando perguntada sobre o futuro, se haverá tratamento hormonal ou cirúrgico e sobre o medo de um possível arrependimento, a mãe se mostra muito tranquila.
“Eu aprendi, na minha maternidade, a lidar com o hoje. O que é importante para a minha filha? Estar bem, saudável, protegida e acolhida hoje? Hoje é importante respeitar o feminino dela? Então eu vou respeitar o feminino dela. Se amanhã, para ela se sentir bem, acolhida, respeitada e amada, vai ser respeitar o masculino, eu vou voltar a respeitar o masculino.
Eu não posso colocar uma criança em sofrimento por medo de coisas futuras, por medo que tenha uma destransição, por medo de que futuramente não seja isso. Eu tenho que pensar no hoje. Eu preciso dar toda a estrutura para a minha filha. Hoje é assim que ela se entende, é assim que ela quer ser respeitada, é assim que ela se olha, se ama e quer ser amada. Então é assim que a gente faz.
A transição que é feita na infância é a transição social. Hoje ela ainda é muito pequena para pensar em qualquer outro processo. Eu preciso saber como ela vai ser, como ela vai entender o corpo dela.
Pode ser que ela não se importe em ter pelos, voz mais grossa etc. Pode ser que sim, e que queira fazer tratamentos”.
Agatha e a família são acompanhados por profissionais interdisciplinares do AMTGOS/USP. “Eu sei das possibilidades e dos protocolos, estou preparada se precisar acioná-los. Porém a gente vai acionar ou não num processo de escuta, observação e diálogo. Quem vai tomar essa decisão é ela”, finaliza Thamirys.